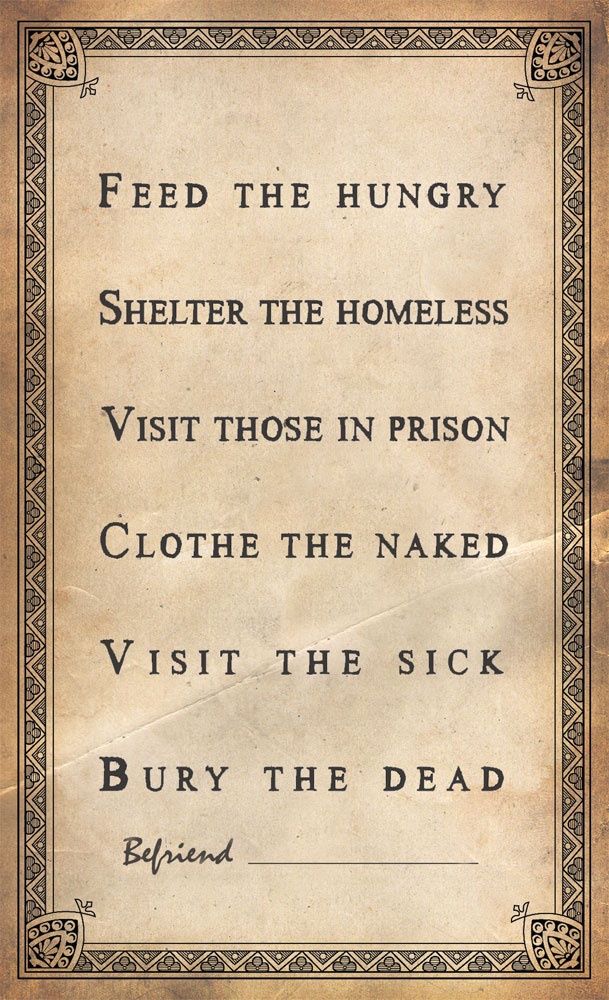Meu avô dizia: a ocasião faz o ladrão. Faz tempo que não escrevo coisas do meu cotidiano (tenho evitado), porém, por motivos nobres, abrirei uma exceção.
Quais os motivos? Sei que não sou a única (nem de longe) que passa por isso. Sei que o ser mulher é muito diferente de qualquer outro ser (no sentido ontológico mesmo) e não, o mundo ainda não atentou o suficiente para isso. Sendo do sexo feminino, não importa a idade, estar acima, abaixo ou no peso, estar com tudo em cima ou desleixada, ter cabelo curto, comprido, médio, loiro, ruivo, pintado ou branco. Não importa. Você é do sexo feminino e será vítima de situações de violência, de opressão, de intimidação. Por ser mulher. Antes: não sou feminista. Tomo todo o cuidado, por princípios, de me manter distante de bandeiras de lutas (sociais, ideológicas, sei lá) – exceto minha predileção política e econômica pelo Liberalismo, mas é outra história. Tenho pra mim que determinadas coisas, quanto mais hasteadas as bandeiras, mais elas de afastam de ser dizimada das atitudes das pessoas. Posso estar errada. As cisões sociais e afins tendem a aumentar, a tornarem-se mais radicais, quando são expostas – enquanto eu sonho que possam ser diluídas até não mais existirem. Contudo, é preciso que sejam relatadas, expostas, esfregadas na cara dessa gente que tem a mentalidade e, pior, a atitude de quem vê o mundo com olhos estúpidos.
Era cedo, mas não muito, quase oito da manhã. Saí de casa para caminhar até uma parte da praia. Muitas, muitas e muitas vezes fiz e farei o mesmo caminho. No Verão, muitas vezes o fiz realmente cedo, lá pelas seis, para ver o sol nascer. Estava com a câmera fotográfica no estojo dela e o mp3 (não ouço música no celular), só. Calça comprida, camiseta, casaco de moletom, tênis, cabelo preso. Mais comum, impossível. Fiz meu velho conhecido caminho e desci até uma ponta de pedras. À direita, uma longa praia de mar aberto, esta curta ponta emenda um caminho de pedras que leva a outra praia ao lado, menor e de mar fechado pela enseada. Caminho muito comum, todo mundo conhece, parte de cimento, inclusive. Dia nublado, praia vazia. Sentei ali nas pedras e fiquei algum tempo.
Eu gosto do mar. Uma parte de mim só existe porque eu aprecio ficar muito tempo observando o mar, fotografando ou não, ouvindo música ou não, pensando ou não. Dos meus vinte e tantos anos, uma parte foi passada assim.
Depois de um tempo, vi um homem que vinha da praia de mar aberto em direção às pedras. Não fiz nenhum contato em nenhum momento. Fiquei ali sentada como estava até então. Ele veio até perto de onde eu estava. Ficou um pouco ali e seguiu para o caminho entre as praias. Nessas horas, eu macaca velha, já tinha ligado aquele alerta que, sendo mulher, nunca desliga. Fiquei na minha, mas sem “dar na cara” não deixei de observar onde ele estava. Um tempo depois, sentei em outra pedra ali ao lado. Ao levantar, vi que ele fazia de conta que examinava as folhas de um mato que crescia no caminho pelas pedras. Da curva onde ele estava “distraidamente” parado dava para me observar. Fiquei ainda um tempo lá (minha intenção era, na volta, ir pelo caminho e passar pela outra praia) esperando que ele tivesse ido para eu poder seguir pelo mesmo caminho, de preferência sem encontrá-lo novamente.
Até o momento, claro, além do olhar insistente na aproximação de onde eu estava nas pedras e ele ter ido e voltado “para ver o mato”, nada me dizia que ele era um perigo real. Como eu disse, são vinte e tantos anos de vida muito bem vivida – e eu não deixo escapar nada. É assim que a gente se cria, olhando tudo, vendo os possíveis suspeitos, sabendo quando está ou não vulnerável. A praia estava realmente deserta, apesar de eu saber quais casas ali perto têm moradores. Ser do sexo feminino é, o quanto antes na vida, estar ciente de ter que cuidar de si mesma – o tempo todo. E eu sempre fui sozinha, sempre andei sozinha. Ele era um estuprador? Um galanteador barato? Um tarado? Tinha se apaixonado fulminantemente à primeira vista por mim? Não sei. E nunca, em nenhum caso, eu tenho desejo ou interesse de descobrir.
A gente aprende que homens são assim. Eles são conquistadores, eles tentarão qualquer coisa, eles, é óbvio, não precisam estar apaixonados por você, mas podem até dizer isso – nem que seja num encontro na rua. Homens são uma ameaça. É isso o que a experiência nos diz. Se nós temos que viver em alerta, vocês têm que viver provando que não são uma ameaça. Falem o que quiser de mim, que sou traumatizada, rancorosa, o escambau. Eu sei que aprendo com a vida – e sou uma baita observadora.
Eis que vi quando ele voltou um pedaço e ficou fingindo qualquer coisa só para me observar. Cancelei a volta pela outra praia. Fiquei mais um pouco ali, até que ele sumiu de vista. Talvez tivesse seguido o caminho. Esperei mais um pouco para garantir a distância e levantei para vir embora. Quando desci das pedras fiz questão de olhar para trás. Lá estava ele, esgueirando-se pelo caminho entre o mato, procurando por mim nas pedras onde eu estive antes. Até que, de longe, viu que eu já estava no caminho que seguia para o outro lado. Ele nunca seguiu o caminho das pedras para a outra praia. Ao me ver voltando, também voltou. Não apressei o passo, ele estava longe. Voltei pra casa com algumas bonitas fotos, com pensamentos bons embalados pela trilha do mp3: como eu amo tanto, mas tanto, e jamais deixarei de fazer. No entanto, neste dia, voltou comigo uma espécie de desalento.
Frequento esta região há muito tempo. Não sou de ir à praia só no Verão – Deus me livre! Sou sozinha. Ainda hoje, desde meus doze anos, ouço conhecidos e gente da família estupefatos porque fico sozinha, saio sozinha e tal. Porque há um silêncio sobre o conhecimento de que o perigo ronda qualquer criatura do sexo feminino. Não sou medrosa, nem temerária, com o tempo a gente vai aprendendo, mas meus dez anos já sabiam muito do que eu sei hoje sobre os perigos que rondam. É um fardo que a gente carrega a vida inteira.
As palavras do meu sábio avô me vieram aos pensamentos, pois não sei nem posso acusar aquele homem de algum crime. Talvez seja um cara comum. Como você. Como o seu pai, como o seu tio, como o seu filho um dia será. E talvez os homens não entendam que mesmo uma abordagem assim supostamente sem violência ou violação explícita é marcante. É traumatizante. Eu que sou até que, sei lá, forte (não é bem essa a palavra). Mas muitas mulheres sucumbem. Muitas ficam atemorizadas – com razão. É que a vida já me ensinou a duras penas que não posso guiar a minha vida pelo mal que os outros me fazem.
E esse cara comum que estava passando ali numa praia vazia e viu uma mulher com quem, sei lá, ele pensou que poderia entabular um papo legal é um babaca. É um babaca que intimidou, que cerceou, que vigiou, que certamente não teve as melhores das intenções. Talvez tenha voltado pra casa, sentado à mesa com a esposa e filhos, tomado seu café – e jamais voltou a pensar sobre. Mas certeza que em qualquer outra oportunidade que aparecer, agirá do mesmo modo.
Não foi a primeira vez que passei por isso. Sei, infelizmente, que passarei por isso o resto da vida. Como eu disse, não importa peso, idade, nada. Estava ali, largada (meu normal, viu), feliz da vida, quieta com meus pensamentos, com sobrepeso, roupa fuleira, naquela alegria de pensar que o mundo não existe e que ele não sabe que eu existo. E aparece um babaca desses.
Desta vez não houve abordagem. Mas e aquela vez na praia do Campeche, o mineiro bêbado? E o cara no trem de Porto Alegre? E tantas, tantas, tantas, outras vezes? E, claro, meu interesse em especial, os conquistadores on line? Aquele que elogia tuas pernas nas fotos do Instagram, o que te persegue no Twitter, o que manda fotos obscenas no Facebook? Não bastava o mundo real? No mundo virtual chega a ser muito pior na questão de invasão e quantidade. Qualquer um te encontra, mesmo você estando quietinha escondida em casa.
A real campanha contra essa mentalidade idiota, machista, superior, estúpida dos homens que praticam a violência (de todo tipo) e violação contra as mulheres só se dará pelos próprios homens. Vocês precisam assumir o que fazem e condenar isso. Não basta o cara que se diz feminista, respeita as mulheres e blábláblá – conheço muitos desses, que praticam coisas inomináveis. Tem que assumir a culpa. Assumir diante de todos: eu assobiei quando uma gostosa passou, eu dei em cima de uma no bar por causa do decote dela, eu fiquei obcecado por fulana e fiz da vida dela um inferno, eu fiquei observando fulana no trabalho. Não vem com o papo “não fiz nenhum mal” porque certeza que tudo isso que vocês fazem, nós sabemos, nós percebemos, nós sentimos. Na maioria esmagadora dos casos, a gente faz de conta que não sabe de nada.
Eu lamento que esses babacas, que hoje fazem isso, têm filhos. E filhas. E eu sei, não é difícil prever, que eles serão criados à imagem e semelhança – pois filhos aprendem muito observando seus pais. E elas crescerão ouvindo e recebendo instruções silenciosas de que “precisam se cuidar”. Deve ser complexo ser homem, também, sabendo que é uma espécie que ameaça, com a simples existência, seus iguais. Não são as mulheres, denunciando e contando (como fiz) que mudarão isso. Somente os homens, assumindo que são o problema e que devem corrigi-lo, podem fazer algo – assumir a culpa diante dos outros é o primeiro passo, o segundo é ser um fiscal dos outros homens, deixando de vez a posição de cúmplice e comparsa. Enquanto isso, teremos leis Maria da Penha, do Feminicídio, etc.. Até quando vocês farão leis para nos proteger de vocês – nos proteger do simples fato de que somos do sexo feminino?
Você talvez não saiba, mas não vai encontrar o amor da tua vida num encontro casual à beira-mar.