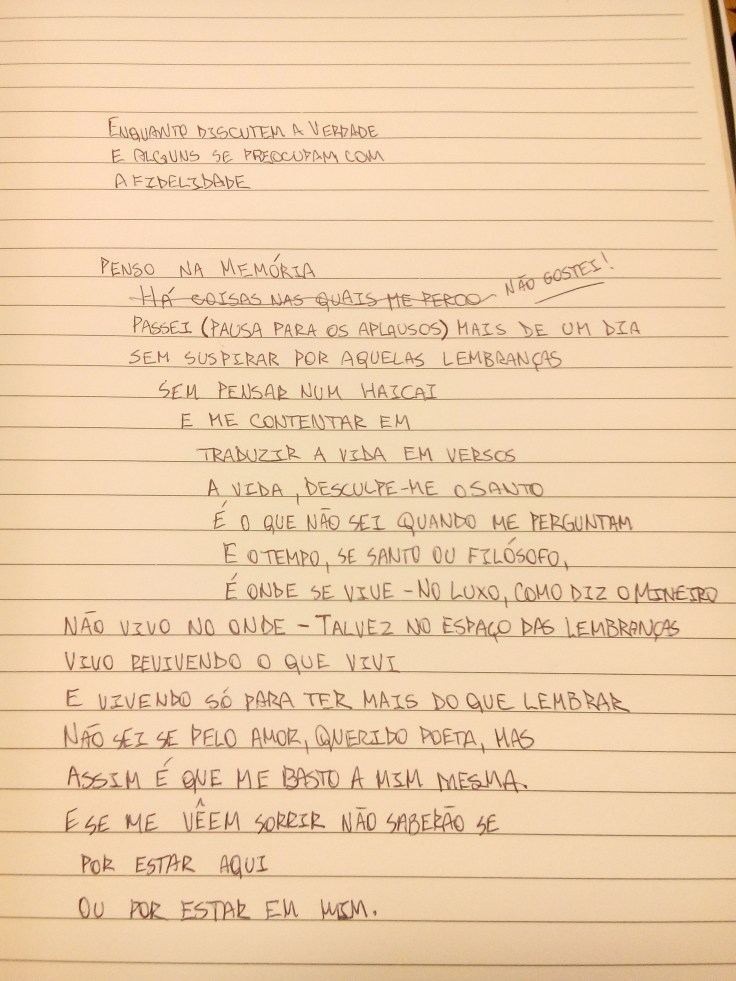Acredito que não tenho, com este texto, respostas a dar. Também acredito que estou num momento da vida no qual dificilmente eu mudaria minhas convicções mais recentes, porém admito ter adquirido uma facilidade cética em relação às crenças e convicções alheias. Tenho pra mim que buscar respostas e verdades com muito afinco (como vejo fazerem ao meu redor) é um erro que se afasta do exercício da reflexão e morre mugindo nos braços da desilusão.
Dito isto, eu quero relatar algumas coisas pelas quais passei, das quais tive conhecimento e que se misturaram com fatos aí da vida real – e não creio que darei conta de expor aqui tudo o que pensei sobre, é claro.
Talvez seja bom partir da premissa de que não acredito no poder do Estado para o bem do povo. Ou, melhor colocado, quanto maiores os tentáculos do Estado sobre nossas vidas de cidadãos, piores as condições de vida – em todos os sentidos. Cheguei a isso faz um tempo, apesar de saber que a relação é complicada, pois não sou uma anarquista (já tive minha época) nem burra a imaginar uma nação, ou nações, ou grupos sociais auto-suficientes na gestão coletiva. Porém, a questão é simples: não quero um Estado que me proteja de mim, um Estado que diga o que meu filho pode ou não aprender (ou quando), um Estado para quem eu pago e que ele decidirá como vai me prestar os serviços dos quais eu preciso.
Também vou deixar claro que não sou militante ou sequer simpatizante dos movimentos sociais. O que, aliás, para bom entendedor significa que também não sou contra – mas, como eu disse, tenho sido cética em relação às convicções alheias. Melhor ainda, deixarei claro que em questão Política sou Liberal-Filosófica e, acima de tudo, pela Liberdade. A primeira poderá sofrer alterações ao longo do tempo (já fui Socialista, já fui Anarquista, já fui tanta coisa e, aparentemente, nunca deixei de ser utópica), contudo, a segunda é tão entranhada que jamais será desvirtuada. Eu sei de onde vieram essas formações, mas não cabe aqui a lenga-lenga explicativa. “Não o prazer, não a glória, não o poder: a liberdade, unicamente a liberdade.” (Fernando Pessoa no meu amigo O Livro do Desassossego) dá uma boa prévia de como ou de onde eu construí alguns princípios e não nos alonguemos mais nisso.
Não sou, então, de Esquerda, nem de Direita – muito menos de Extrema qualquer uma das duas. E se você vê o mundo a partir da viseira do dualismo, melhor parar de ler por aqui. E aos de má-fé, adianto que Neo-liberalismo nada tem a ver com o que estou pensando – é só mais uma infeliz prática de uma boa idéia. Deixados os dualismos de lado, prosseguirei.
Li uma reportagem (e pouco importa de onde) sobre pais que estavam processando o Estado para conseguir matricular os filhos antes da idade prevista. Na minha época, para entrar na primeira séria era preciso ter sete anos. Hoje, aos seis já é possível – sendo que o Ensino Fundamental aumentou um ano, a nona série. Pais querendo que seus filhos de cinco anos (incompletos, inclusive) tivessem o direito à matrícula. Pais defendendo que acompanharam os filhos e que eles têm total capacidade de acompanhar uma turma de primeiro ano. O relato dos pais, para mim, foi chocante. Eles, claro, afirmam que desejam o melhor para os filhos, ao colocá-los antes na escola porque os pequerruchos têm capacidade e seriam lesados com a proibição por um mero detalhe que é a idade. Meses antes de ler isso, eu tomei conhecimento do projeto do Governo Federal de, em alguns anos, obrigar todas as crianças de quatro anos a estarem matriculadas – ou seja, a matrícula obrigatória será para o que vem antes da primeira série. Meu choque, neste caso, aliou-se à revolta.
Por que o Estado deseja com tanta convicção que meu filho fique encarcerado numa escola desde os pouquíssimos quatro anos? A questão se colocaria assim para mim. Sei que muitos (a maioria?) dos pais matricula seus filhos com essa idade ou antes, em creches. Pensei que para muitos pais, o fato do filho “seguir seu rumo” aos quatro anos será de grande “ajuda” (para não dizer alívio). Maldade? Não, porque infelizmente tenho visto poucos pais que se alegram e aproveitam as dores e delícias de criar um filho por perto, poucos pais não delegam suas responsabilidades às babás, avós, professores, “tias” e o escambau. Claro, eles têm que trabalhar, eu sei, ó, mundo capitalista. Mas é assunto pra outra hora.
Meu susto é pensar que a educação (em todos os níveis) destas crianças está sendo empurrada para o Estado. Vejo isso com grande temor. Enorme temor. Entre a notícia lida e o conhecimento das mudanças do Governo (que, vale dizer, está fazendo uma campanha maciça para que as escolas e professores consigam fazer com que crianças de oito anos (tardiamente) saibam ler e escrever) li um livro que me fez temer ainda mais o andar da carruagem.
Há uma deficiência absurda entre as crianças ao exercitar a leitura e a escrita. Adotaram políticas inomináveis sobre “passar de ano” alunos que não tinham domínio do conteúdo previsto. E o não saber ler e escrever está na base. Eu vejo alunos de Ensino Médio (de Graduação, pós-graduação…) que não foram alfabetizados – e não são “alguns”, em certos lugares é a maioria. Os problemas que criamos hoje, só virarão precipício lá na frente. Por isso, tentei, por um lado, entender a iniciativa do Estado em obrigar a matrícula aos quatro anos como uma tentativa – sofrível – de que as crianças saibam ler e escrever aos oito anos. Porque, devem pensar, entrando com sete anos não é possível.
O livro me fez pensar num radicalismo: o Estado não domina o povo pela Economia, nem pela Cultura, nem pelo assistencialismo social. O Estado domina uma sociedade pela Educação. E a Educação, retirada da alçada dos pais, fica à mercê das intenções e intencionalidades do Estado. Quem dirá uma Educação que tira crianças aos quatro anos do seio da família e a encarcera em salas precárias, com professores descontentes (e muitos sem formação mínima), sob o domínio de pensamento deliberadamente pré-determinado – enquanto pais folgadamente se eximem das suas responsabilidades.
Não foi difícil juntar alguns pensamentos e concluir que não quero que o Estado interfira em nada na educação dos meus filhos. Ah, mas me sinto tão onipotente como os pais da reportagem ao saber o que é melhor para os meus filhos? Bem, me pareceu o erro comum aos que são pais. Porém, assumirei que qualquer coisa de errado no processo será minha culpa – nem do Estado nem de ninguém.
Mas, aí, entre as minhas muitas divagações os fatos exigem que eu não viva na minha bolha.
A partir dos meus princípios, fica muito difícil dar crédito, ou sequer prestar atenção a certos princípios alheios. Como li no Twitter uma vez, fica difícil imaginar que alguém vá às ruas gritar “o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo”. As incoerências dos partidários deste mundo dualista ferem até meu sentido de senso comum.
Eis que, numa folga, lendo uma bobagem, me deparei com um pequeno diálogo que uniu uma crítica tão atual ao bom humor sempre necessário:
(o personagem dizia, com orgulho, que não tinha TV em casa e que nunca assistia nenhum programa televisivo)
“Then how do you know what´s going on in the world?” Alice had to know.
“I have a laptop computer with Internet access,” he said. “That´s where the real news is.”
“A revolutionary,” Harley said.
“An anarchist,” Alice corrected.
– Diana Palmer, The Maverick
Eu ri e lembrei de tantas publicações que vejo nas redes sociais, lembrei de amigos, de algumas pessoas que se não existissem o mundo seria muito melhor, de tanta gente, enfim. Já ouvi personagens que se orgulham de dizer que não assistem TV – porque não basta você fazer algo, é preciso sentir-se superior aos outros.
O que tem tudo isso a ver com o que eu escrevi acima? Já chego lá (meu leitor já sabe, paciência em primeiro lugar ). Eu vejo essas manifestações – não, chega, a palavra já virou outra coisa. Eu vejo esses gritos raivosos contra os conglomerados midiáticos (ficou melhor que PIG ou grande mídia, né? A gente precisa reinventar!) e analiso as atitudes delas. Pois não vejo diferença entre a Veja e o Diário do Centro do Mundo. Já disse isso aqui. É contra o Jornal Nacional mas acredita cegamente em tudo que sai no site da revista Fórum. A incoerência mandou lembranças. Só o dualismo redundante e burro pode crer na verdade do órgão que diz só aquilo que eu quero ouvir. Sim, minha crítica atinge quem só lê a Veja no seu jornalismo panfletário para alimentar suas convicções contra isso ou aquilo.
E aí eu cheguei onde eu queria. Onde vamos parar? Que mundo, ou, melhor, que visão de mundo nós construímos ao só cercarmo-nos das idéias que vão ao encontro das nossas? Estaríamos todos presos nesse momento, como eu falei de mim no início, de não querer mudar nossas convicções e olhar com desdém as dos outros? Por que dispensamos o exercício intelectual de ler e conhecer concepções diferentes das quais preferimos? Eu disse, venho com perguntas, não tenho respostas. Cheguei a esse ponto porque percebi que tinha limitado muito o exercício de acompanhar as várias visões de uma mesma coisa. Digamos que fui perdendo a paciência, usando demais o “ocultar tudo de fulano” do Facebook, desistindo de ler textos que logo de cara usam refrões dualistas. Fui formando uma ilha protetora, se não das minhas concepções, mas das incoerências alheias.
E vamos aos exemplos práticos. Estava no centro de Curitiba no início de março. Um repórter parou e perguntou se poderia me entrevistar sobre a greve dos professores do Estado, que se arrastava a cerca de um mês. É claro que me dispus (sempre dou entrevistas, pra quem não sabe). O repórter começou perguntando se eu achava justa a greve. Eu disse que sim, que era a única forma, infelizmente, de eles serem ouvidos. Aí ele disse que já fazia muito tempo, que os alunos seriam prejudicados, principalmente os que fariam vestibular no fim do ano. Eu sorri e disse que era só eles adiantarem os estudos em casa, não deixarem o tempo passar em vão, e que tanto professores quanto alunos sofreriam, mas que o tempo sempre é recuperado. Basicamente a entrevista foi isso, e devo dizer que estava num bom dia, falei bem, não gaguejei, deixei claro ser favorável aos professores e que mimimi de aluno não pega.
Pois bem, a entrevista foi dada ao canal e-Paraná, “Rádio e Televisão Educativa do Paraná”, público, é claro. Fiquei até exultante (a ingenuidade é uma bosta) pois um canal “educativo” estava preocupado com… a Educação. Pois bem, o repórter me disse que horas passaria a reportagem. Eis que… minha entrevista não foi veiculada. E o resultado vocês podem conferir:
Por que colocariam uma professora apoiando a greve dos professores quando poderiam colocar um pai xingando os professores ao dizer que eles “incorporaram” as greves? (Não encontrei o vídeo do Jornal e-Paraná do dia 4 de março de 2015 no site do canal, só no Youtube, mas encontrei este http://www.e-parana.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=14985 mais recente, um dia antes do massacre que ocorreu em frente ao Palácio Iguaçu).
Os vídeos falam por si. E, vejam só, não é da Globo nem de suas afiliadas. É um canal estatal – idéia que agrada deveras aos mais politizados de alguns lados. Agrada aos, não sei, estou na dúvida se ingênuos, utópicos ou burros (por sinal, três sintomas que andam juntos) que acreditam em imparcialidade e acreditam em coisas do tipo:
É simples. Qualquer meio, qualquer pessoa, moldará os fatos, as intenções, as restrições. Nós fazemos isso o tempo todo. Minha paciência foi perdida quando vi a insistência de pessoas criticarem o Jornal Nacional por não passar nenhuma reportagem sobre o HSBC, pois, é claro, ele é patrocinador do JN. Mas queriam o quê? Como a e-Paraná, queriam que eles colocassem alguém dando apoio à greve de vinte e cinco dias, uma das maiores da história do Estado, dos professores? Sério mesmo que acreditamos nisso? Somos, afinal, revolucionários, anarquistas ou burros?
E volto lá ao início. Não quero o Estado mandando e desmandando na Educação. Nem na mídia. Nem nos policiais. É burrice, acima de tudo, acreditar que um Estado de Esquerda, “pelo povo”, com TVs controladas por ele, será mais livre do que temos hoje. É burrice acreditar que um Estado de Centro ou Direita, neo-qualquer-coisa, terá só imprensa manipuladora e assentirá aos mandos e desmandos publicando receitas de bolo. E é uma burrice maior ainda nós nos mantermos fiéis às nossas convicções vendo o mundo desta bolha que é a internet dos sites salvos nos meus “favoritos” – porque é ali, a-rá!, que existe a verdade!
Por que nos sentimos superiores aos outros julgando-os com falácias e desdém? Por que querer acreditar num Estado qualquer – eu disse qualquer – que será por alguém que não eles, que estão no poder? O Poder jamais andará ao lado da Liberdade. Os tentáculos do Estado nos infantilizam, nos destroem, nos fazem passar fome (e não só essa que sinto porque são 11h e nem tomei café da manhã), criam crianças e adolescentes para si, para o apertar parafuso (tão bem exemplificado por Chaplin). Pois dos engôdos da humanidade, afirmar que o professor “faz pensar” é um dos maiores. Acreditar que entre professores e policiais, por exemplo, de um lado só há santos e, do outro, demônios é excetuar todas as questões morais e éticas (que são fascinantes e sobre as quais não li nenhuma reflexão) presentes.
E para além das incoerências gigantes, há as pequenas. Vi, com estes belos olhos castanhos de quem parece viver distraída, publicações em rede social com “ISSO A GLOBO NÃO MOSTRA” e anexava um vídeo… da RPCTV, afiliada da Globo no Paraná. Vi professores clamarem contra as atrocidades perpetradas aos seus colegas de profissão com um Português sofrível. Vi pessoas de bem quererem defender agressões desmedidas porque são greves orquestradas por órgãos sindicais. Vi a má-fé de quem divulgou vídeo (uma montagem de entrevista do governador com cenas das atrocidades – me nego terminantemente a postar o link aqui) que foi manipulado pela edição, a favor dos agredidos. Manipulação contra quem a gente demoniza, pode; contra quem a gente apoia, não pode? (os princípios éticos, como vemos, estão também no simples uso de um programa de edição que hoje um monte de gente domina, não só no ressurgimento de Eichmann nos personagens que recebiam ordens para atirar balas de borracha)
Eu pensei em tudo isso quando vi professores e policiais, ambos do mesmo “lado” – posto que funcionários do Estado -, num cenário de conflitos teóricos abandonados e de simples e pura violência. Eu penso em tudo isso quando tenho dificuldades em compreender os motivos que levam as pessoas a pensarem deste ou daquele modo. Eu não consigo deixar de pensar em quem tem, e não é coisa de momento, sempre as mais belas e duras certezas da vida.
Quanto maiores os tentáculos do Poder, mais sufocada será a nossa Liberdade. O Poder, encarnado nos seus personagens reais de mandantes do País, do Estado, do Município, é que vive livre – de condenações, de responsabilizações pelos seus atos ou atos sob sua competência. Estes personagens é que vivem livres para agredir e não serem demitidos no mesmo dia. Tirar o poder de quem “chegou lá” pelo voto lindo e democrático do povo (o voto: uma das piores ilusões que temos hoje em dia) não é como assinar a demissão de um caixa de supermercado que roubou, ou expulsar um participante do BBB que agrediu outro. Não. O Poder dá a Liberdade. Nós damos a liberdade para eles e perdemos a nossa. Não há Liberdade na Democracia (fica pra outra hora).
Só nos resta escolher em qual site ou canal veremos as imagens. E talvez por isso estejamos, burramente, brigando tanto por isso e achando que temos a “liberdade” de escolher nossos meios de informação.