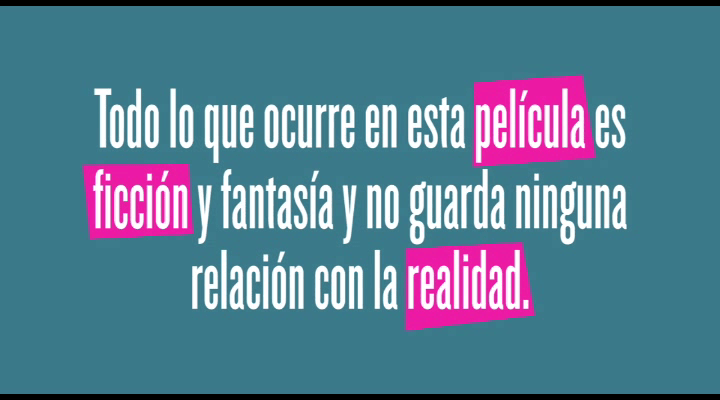Acontece que não ouço as conversas alheias de propósito, mas gosto muito de ouvi-las. Estava no mar na terça-feira de Carnaval quando me peguei acompanhando a conversa de uma moça com sua tia. A moça mostrava-se muito preocupada com o namoro de um primo. Ao que parece, todos estavam passando o feriadão empilhados na mesma casa e, portanto, as questões de foro íntimo (como acontece nessas situações de convívio forçado) do tal primo caíram na boca do povo (e vieram parar aqui).
Vou comentar de passagem que já observei que as pessoas discutem assuntos os mais pessoais e abrem o coração durante os banhos de mar. Dito isso, explicarei a história do primo da moça. Todos presenciaram as grosserias dele para com a atual namoradinha (e esta, sem entender nada das atitudes dele, abriu o coraçãozinho despedaçado com alguns familiares próximos – a prima, no caso). Ao que parece, o namoro é novo. E esses rompantes de grosseria e mau humor do moço deixaram a moça desestabilizada, porém, a prima não pareceu estranhá-los.
Cheguei ao ponto que eu queria: ao tentar justificar o rapaz, ela e a tia comentaram que as atitudes do moço são iguais às do pai e tios dele. E eu fiquei de fato pasma quando ela disse “é hereditário, não adianta, é genético ele ser assim”. E não foi uma explicação metafórica qualquer, ela realmente acreditava que as atitudes e mentalidade deles eram algo “genético”.
O machismo, creiam, não é genético. A brutalidade, violência e grosseria masculinas não são hereditárias. Em parte podemos creditá-los à educação, porém jamais a algum traço científico que justifique e inocente a ignorância. De tanto conviver com pai e tios, a moça acredita piamente que estupidez, agressividade e atitudes similares são algo que passa “de pai para filho”. Prestei muita atenção na conversa porque tal idéia me parecia não só descabida como impossível de existir – mas existe. Ela insistia que ele deveria procurar algum tipo de tratamento, mas sabia que pelo comportamento explosivo dele era melhor ninguém nem falar disso novamente (de onde se conclui que já haviam falado). Insistia, também, que a moça deveria entender que ele era assim, nesses poucos meses de namoro ela ainda ficaria assustada, mas como as tias e a mãe dela, acabaria se acostumando e sabendo lidar melhor com a situação (ela disse isso com todas as letras). Achou que era até bom a moça conhecê-lo assim logo, para não sentir-se lograda depois e condenada a passar o resto da vida com alguém tão (me faltou um adjetivo).
Ela fez questão de dizer para a tia “você não acha?, se fosse você, que passou o inferno com o tio, se só te contassem ou tivesse ficado sabendo depois de um tempo, não ia ficar revoltada? Melhor ela saber agora”. A prima me pareceu uma pessoa fascinante, com opiniões tiradas de um mundo a parte. Ela contou que a moça ficou surpresa, numa conversa, ao observar que as opiniões do moço eram tão machistas. Ao que a prima disse, para a tia, “ela não viu nada ainda, imagina quando for só os dois em casa” (me pareceu a opinião bem abalizada de alguém que testemunhou atrocidades numa família onde os homens são machistas).
Realmente me enterneceu, porém, a preocupação da prima com o futuro do casal. “Já pensou, tia? Perder o amor da vida porque não sabe se controlar, porque não escuta os outros e fica com esse gênio ruim num dia de festa, porque faz essas coisas bem no começo do namoro”. Eu, por exemplo, se conhecesse a moça, diria: foge, querida. Foge de um cara que te trata assim (seja no começo do namoro ou depois de anos de casado). Porque esse cara não vale nada e não tem DNA que justifique. Eu não entendo como ainda propagamos, entre as mulheres, essa idéia de “aguentar” qualquer coisa por amor, de que homens “são assim mesmo” e nós devemos nos conformar (e baixar a cabeça).
É a cultura machista que se entranha na educação das mulheres. E onde acaba? Nos assassinatos porque “não aceitou o fim do namoro”, em boletins de ocorrência registrados e que não serviram pra nada, em filhos que crescerão em meio a cenas brutais e tristezas que moldarão seus caráteres. Homem violento é um criminoso, simples assim. Infelizmente, em muitos casos a violência não é tão evidente. É comum ouvirmos dizer “ah, ele nem era violento”, porém, desconfio que há uma infinidade de situações das quais podemos, sim, depreender que o cara é agressivo ou não aceita ser contrariado, etc.. É preciso observar, é preciso estar atenta a detalhes. É triste viver sendo mulher e com a atenção sempre ligada…
De volta à conversa, a prima lembrou que a moça disse que sempre ouviu que deve observar como um filho trata a mãe para ver como será tratada como mulher por ele – e, segundo a namoradinha, o modo como o moço trata a mãe deixou-a horrorizada. Eu diria que é sempre bom observar mesmo, pois filho deve amar (nem demais, nem de menos) e respeitar a mãe, e homem que tem problema com a mãe é sempre dor de cabeça na certa. Pelo menos a prima não insinuou que ele deveria tratar a mãe bem só para causar uma impressão melhor na namorada.
Eu fico estupefata com essas coisas que ouço por aí. É a razão de gostar tanto de ouvir conversas alheias. O outro é sempre um mundo estranho e desconhecido – e a gente vive achando que tudo gira em torno dos nossos umbigos e, vê, confia em mim que não é bem assim.
Machismo não é doença, como também não é algo que se carrega no sangue. Não precisamos esperar que o cara abra a porta do carro (apesar de levarmos muito em conta gestos de cortesia e atenção, rapazes), mas se ele bate a porta do quarto ou dos armários no meio de uma discussão ou birra qualquer, desconfie (eles demonstram, com isso, a violência contida que queriam, na verdade, descontar em nós). Um dia ele baterá a porta do quarto. No outro jogará tua bolsa longe. Você não pode esperar para ter certeza que ele não baterá em você num dia depois. É com essas ameaças, com essa demonstração de força e violência, que os homens acuam as suas companheiras. É impelindo-as aceitarem-nos “como são” que eles se sentem fortes na sua agressividade e ignorância.
Mas muito me choca e desgosta ver mulheres reproduzindo a mentalidade de que temos que aceitá-los assim, de que machismo e violência são coisas “naturalmente” masculinas. A submissão começa por querer sentir-se aceita e amada. Nenhum amor vale isso.