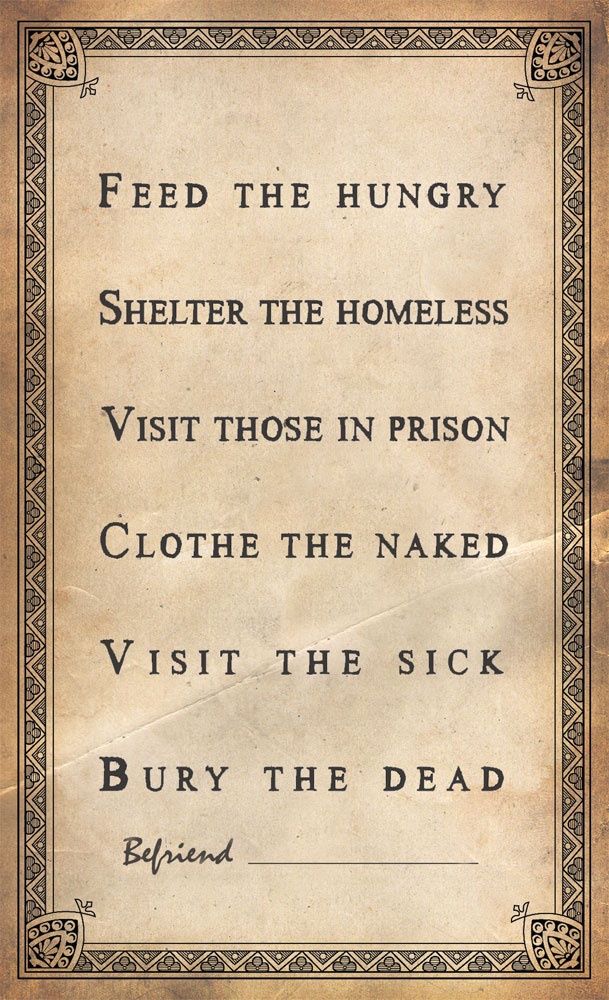O tempo, o teu tempo. Assim devia ser a vida. No nosso tempo. Os dias, as noites, o trabalho, a diversão, o prazer. Mas não é – ou raramente o é. Você só vive se caminha, as distâncias só existem de fato ao caminhar. Aquele exercício simples e prático. A saúde agradece, a alma fica mais leve, a cabeça segue o seu ritmo. Inventaram o avião, o navio, o carro, o trem para cortar essas distâncias, para romper com o nosso tempo. Perde-se o caminho, objetivam-se os destinos.
Numa conversa a pessoa, moradora de Curitiba, me disse que queria ir embora dali (Curitiba, que quando digo “nasci lá” sempre ouço “sempre quis morar lá” ao que respondo “eu nunca”). E disse que aquele ritmo de cidade não era para nós que pensamos, trabalhamos com idéias, escrevemos, estudamos, pesquisamos. É exigir demais de nós. Cismei com isso. Ela está certíssima. O tempo, o nosso tempo, sofre com o tempo externo, esse aí que passa nos pontos de ônibus, que atravessa sinaleiros. Eu mesma nunca quis morar em cidade grande. Não gosto, não adianta. Sinto falta de morar perto do mar e do mato porque eles seguem o meu tempo.
Você passa pela cidade e mal tem tempo de parar para olhar os ipês floridos. Ou reparar que a lua ainda não se foi, apesar do sol que lhe queima a nuca. E o tempo não lhe pergunta se já é hora de almoçar. O telefone tocou, esses dias, e não era pra mim, mas ficamos conversando. Falamos do clima, era final de inverno mas lá na Serra já fazia calor, ao que ouço “mas você precisa de sol, filósofos precisam de sol para pensar” (é uma, dentre as duas pessoas que me chamam de filósofa). E eu preciso mesmo do sol para pensar – para viver, velha história. As idéias ficam confinadas à falta de tempo das cidades, à correria e aos dias nublados.
Não me imagino presa duas a três horas no trânsito para ir e voltar do trabalho, foi o que eu disse ao morador de Curitiba. Ao que ele disse que isso, hoje, é pouco – e é mesmo, mas pra mim soa absurdo. Ele fugiu de São Paulo, eu não consigo me imaginar morando num lugar tão sufocante. Não é a terra do meu tempo. Já corri muito na vida, para não perder aviões, ônibus, pegar trens cheios, chegar antes dos alunos, chegar atrasada na aula e perder ponto na avaliação final. Não corro mais porque minha idéias não acompanham. Sempre gostei da cidade como laboratório, ver as pessoas, ouvir coisas, criar histórias. Faz um tempo me afastei do dia a dia e nem sinto mais falta. Segui atrás do meu tempo. E descobri-o.
O meu tempo é esse que segue o mar imutável. Que testemunha o sol chegar e ir-se embora. O meu tempo acompanha as Estações, as árvores que perdem suas folhas e voltam a brotar devagarzinho. É caminhar pela cidade. Poder cumprir as distâncias com minhas próprias pernas – poder alcançar só o que consigo. As idéias não têm pressa, não irrompem em meio ao barulho irritante do motor do carro da frente. Não respeitamos mais a nós mesmos, ao nosso ritmo, ao nosso tempo – o que não é nada num mundo que não se respeita. É querer fazer muito nesse intervalo que é a vida, sem se deixar observar um menino soltando pipa num dia sem vento. É esperar que os títulos, diplomas, prêmios, papéis, tempo de contribuição da previdência digam o que foi o tempo que você passou aqui neste mundo. Dizem, por sua vez, que corrias não com ele, mas contra ele. Guerra inglória.
Quero buscar meu tempo – nova empreitada na vida. Quero descobrir que hora exata é essa que os sonhos me permitem acordar, sem despertador nenhum. Quero descobrir porque o sol se pôr é anúncio de recolhimento, prece e paz. Quero deixar que as idéias e as histórias tomem seu tempo e seu espaço na minha cabeça sossegada de banho tomado. Quero caminhar, a pé mesmo, ao longo dos dias. Quero não cumprir distâncias só pela chegada. Quero reparar nas paisagens – e fotografar os ipês, as ondas, os cavalos a rolarem na grama. Quero ver as aves cruzando o céu na sua viagem infinita pelos pólos. Quero saber em qual tempo me encaixo – no hoje, no ontem e, quiçá, no amanhã. O tempo é um velho amigo, quero cuidar melhor dele. Quero-o comigo quando ele começar a pesar nas pálpebras e nas costas. Quero deixar meus olhos aproveitarem-no para ver a vida em cada detalhe que passa despercebido aos que precisam trocar a marcha, anotar na agenda e ir para a academia. E comecei reparando na amoreira que tem em frente ao Batalhão. Comecei observando o pato que furava as ondas furiosas da última ressaca.
Ao vê-lo, pensei de brincadeira “queria ser na vida como aquele pato ali encara essas ondas gigantes”. E, bem disposta, entrei na brincadeira – levando-a muito a sério.