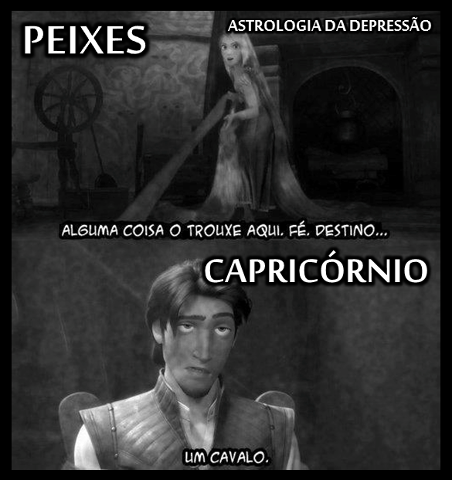Vou arriscar começar assim:
“Mas voltemos ao salvacionismo de vocês, os representantes da decantada civilização ocidental…”
Essa frase é uma das tantas que permeiam o diálogo entre a professora e o tenente durante o jantar de despedida deste. Meus sustos foram muitos (e positivos) ao começar a ler O Prisioneiro, do meu amado Erico Veríssimo.
Ainda uns dias antes eu assistia a Saramandaia (sim, assisto novelas) e ao ver uma cena histórica da TV brasileira com Tarcísio Meira e Fernanda Montenegro contracenando lembrei do O Amor nos Tempos do Cólera. Em seguida pensei no Garcia Márquez, outro amor da adolescência, e em como me sinto quando sei que um autor, diretor, ator não produzirá mais livros, filmes. Garcia Márquez não morreu, mas infelizmente por questões de saúde é pouco provável que escreva mais alguma coisa. Com Erico é assim. Os livros dele, tão importantes para mim, estão aí. Pensando nisso procurei um que eu ainda não tinha lido, mas que guardava nas prateleiras, assim, antegozando um prazer que um dia se extinguirá. Eis que um deles era O Prisioneiro. Para quem se apaixonou pelas histórias de O Tempo e o Vento, ele segue um caminho mais próximo do Senhor Embaixador. Em nada menos apaixonante.
E então me dei conta do que vinha acontecendo. Havia assistido ao O Príncipe do Deserto, com o gostoso do Antônio Banderas, esperando pura diversão. Porém, como normalmente acontece, não foi bem assim. Aí fui ler um romance de banca de revista no intervalo das cruzes da vida. Era um duplo. E? Eram histórias que se passavam entre “lá” e “cá”, com direito a sheikes, antiguidades perdidas no Egito e tudo a que se tem direito. Numa sucessão assim, já meio desconfiada, caio em mim ao intercalar, num dia, o diálogo da professora e do tenente com Terre et Cendres.
Foi então que a questão da Síria tomou proporções maiores com a ameaça (que nunca é só uma ameaça) do Obama. Não acompanhei as notícias, não sou especialista em relações internacionais, não li intermináveis análises ocidentais (nem de direita, nem de esquerda), não fiquei esfuziante com teorias de conspiração, não fiz a piada do nobel da paz declarar guerra… aliás, não fiz piada alguma. Não fiz comentário algum. Ouvi e li brevemente uma coisa aqui, outra ali.
Eu me dei conta, com Terre et Cendres, que tudo estava girando em torno da complexa relação Oriente versus Ocidente. O livro do Erico deu o soco final enquanto o filme me deixou com aquela sensação que, infelizmente, não sei descrever.
Talvez eu tenha aprendido a responder ao “ah, você é árabe?” com o esclarecimento “não, sou sírio-libanesa” antes de saber soletrar meu nome e sobrenomes direitinho. Sim, tenho, por parte de mãe, descendência sírio-libanesa, bisavó síria casada com bisavô libanês, vindos do Líbano para fugir das agruras e guerras e que foram parar no interior do Paraná. Convivi muito de perto em alguns (talvez poucos) anos muito intensos com meu avô, filho deles, e minha avó que havia convivido com a sogra por muitos e muitos anos. Minha bisavó manteve e passou a eles o que trazia do seu mundo. Eu cresci comendo os melhores “charutinhos” do mundo, rodando a manivela do moedor de carne para fazer o kibe mais delicioso que eu já comi, aprendi cedo, com minha mãe, a fazer mjadra, faço a melhor sfiha que eu conheço. Lembro de ter ouvido pouca coisa de árabe pela casa porque meu avô conhecia, entendia mais do que sabia escrever, minha mãe nunca aprendeu, e meu avô tinha amigos brimos.
Me orgulho muito disso. Por criação e por sangue, tenho forte muitos sentimentos e características dessa descendência.
Diante de uma relutância pessoal em escrever sobre algo tão intrincado, pensei em como no Brasil ainda é tão pouco conhecida e valorizada esta cultura. Hoje já exigem ensinar História da África nas escolas, mas a maioria dos brasileiros não tem um pingo de idéia sobre a História do Oriente. Eu sou sortuda e tive um professor muito bom que por interesse próprio havia estudado e conhecia a história dos povos árabes e dava aulas apaixonadas sobre. Até hoje, para dar a proporção da ignorância, me perguntam sobre a minha religião. Sou católica e minha formação religiosa vem justamente da minha bisavó síria – foi a religiosa mais fervorosa das minhas famílias, inclusive. Outro exemplo é perceber como as pessoas não têm idéia de onde vem o apoio (até onde li, único) da França ao provável ataque que o Obama fará. Quem estudou a questão da França e da Síria na escola?
Os povos árabes, talvez ainda de maioria sírio e libanesa, que vieram para o Brasil são uma massa informe retratados como mascates em filmes e novelas e livros – lembram do Nacib de Gabriel, Cravo e Canela? Na novela das nove da Globo, Amor à Vida, a família do Antônio Fagundes é Khury (há uma variação na grafia por conta da transliteração e, claro, dos problemas de comunicação da época da imigração), sobrenome bastante comum na região e que significa Padre. Não sei qual foi o motivo da escolha por um sobrenome árabe para a família porque a escolha não parece relevante nas características dos personagens nem na cultura – só se foi porque queriam ligar ao hospital famoso. Aliás, esse é um exemplo de que os que vieram pra cá também fizeram muito e não eram apenas mascates. Aliás, eu não vi direito nem entendi (a novela tem realmente coisas bem confusas), mas a irmã do Antônio Fagundes tem um filho que parece ter seu potencial na trama ligado à religião, mas eu não sei qual é.
Mas essas histórias muita gente não conhece. Hoje há levas de imigrantes árabes de outras nacionalidades e religião, é só andar ali pelo centro de Florianópolis e conhecer muçulmanos, egípcios, sauditas. Uma vez presenciei a cena de dois árabes (não sei a nacionalidade), um dono do restaurante onde estávamos, discutindo sobre um acontecimento da época e colocando a culpa nos judeus.
Diante da ignorância da história e da cultura – e eu diria mais: valores – de um povo, avultam opiniões e comentários, às vezes dignos de só saber pedir umas sfihas no Habbib´s.
Não vou recorrer ao academicismo nem ao Said e companhia. Aqui não é lugar pra isso.
Eu queria escrever sobre um sentimento. O sentimento que eu tenho por ter sangue árabe. Por ter presenciado fatos da minha família que se explicam (e muito) só por se ter em mente como e por quem fomos criados. Eu queria conseguir escrever sobre isso. Me sinto incapaz. Mas é com Terre et Cendres que eu vou tentar.

O filme se passa no Afeganistão. Um avô, um neto. Uma missão. Uma guerra. E só. E é assim, com paisagens rarefeitas, palavras exatas, lapidadas, valores intrínsecos que o filme se concretiza. Não há drama como estamos acostumados, não há excessos. Há dor – por todos os lados, em todas as revelações. Não há posses, nem de terra, nem de nada. Enquanto assistia, senti uma necessidade de escrever sobre ele e foi na cena do bombardeio, mais exatamente no plano do menino no meio dos destroços, que ela se efetivou. O rosto daquele menino foi provavelmente a expressão mais contundente de todo o filme. A caminhada dele e do avô, a relutância camuflada em ver o filho e ter que lhe dar a notícia de que sua esposa e toda a família, exceto ele e o filho, morreram é angustiante. O personagem do menino é um dos melhores que vi até hoje no cinema. Não vou contar o motivo – vai que vocês se entusiasmam e decidem assisti-lo, né? Mas quando revela-se algo dele, você começa a percebê-lo de outro modo – e tudo fica ainda mais doloroso. Eu teria restrições em relação às imagens da esposa nua que aparece nos sonhos e delírios do avô, mas provavelmente é implicância minha. O personagem da banca ao lado da portaria das minas é um símbolo de sabedoria e experiência, característica dos povos árabes. Mas é nas minas, ao descobrir que o filho já sabe que a sua aldeia foi dizimada e continua lá trabalhando (sorry, contei!) que eu vi duas das características mais fortes que sinto tendo o sangue sírio-libanês: a família e a honra. São laços, valores, que talvez neste mundo ocidental (criação forçada, forjada, falsa, à guisa de poder e expansão, com os pés na ganância e sujos de sangue e violência) não tenham sido perpetuados. E é essa a diferença de uma tradição de milhares de anos diante de uma que tem algumas poucas centenas.

O avô-pai sente-se ultrajado porque o filho, tendo recebido a notícia da praticamente certa morte dos seus familiares ficou lá trabalhando e não foi enterrá-los. Enterrar seus mortos, para os árabes, é uma questão de honra – seguida, obviamente, pelo apego e respeito à família.
Lembrei do A Hora mais Escura e de todo o embróglio que houve quando supostamente mataram o Osama Bin Laden e não deram um enterro digno e nos rituais da religião dele porque queriam evitar uma peregrinação ao local onde ele seria enterrado. No filme, aliás, o único ponto relevante é que em nenhum momento há (para o espectador) a confirmação visual de que o morto é o Osama e nem a agente confirma que ele é quem ela caçava.
E aí voltamos para a questão dos Estados Unidos. Não, não sou anti-americanista. Acho que posicionar-se assim nos dias de hoje é pura estupidez – e nem digo ideológica. Viva sem o que aquele país produz, dissemina, discursa e depois conversamos. O cara mais anti-EUA que eu conheci era um que bebia coca-cola de manhã, de tarde e de noite. E nem se dava conta do que fazia e do que falava. Me parece estupidez, também, buscar teorias conspiracionais sem fim. Me deu um cansaço ler “os EUA afirmam que foram usadas armas químicas na Síria”. Todo mundo lembra que eles afirmaram que havia armas químicas no Iraque, né? Aliás, tudo que eu via e lia se relacionava com a questão Oriente versus Ocidente, até a sensacional bosta O Ditador, do Sacha Baron Cohen. O filme merece uma análise mais detalhada, é verdade.
” – Mas acredita que este povo esteja suficientemente maduro para a liberdade?
– Não se trata de estar ou não maduro. Todo ser humano tem um direito natural à liberdade. E, afinal de contas, quem é que vai decidir no mundo que povo está ou não maduro, quem tem ou não direito à liberdade? Vocês? Por quê? Porque são fortes econômica e militarmente? Ou porque são os representantes da vontade divina na Terra?”
Eis que li isso no mesmo dia que tudo se deu: a ameaça americana e o Terre et Cendres. Erico Veríssimo escreve uma fábula contundente sobre o posicionamento estadunidense diante “dos outros”. Digo fábula porque os personagens não têm nomes (eu fiquei particularmente emocionada, porque gosto de escrever sem dar nome aos meus personagens), não há contexto, não há datas e referências históricas, nem geográficas. Ele nem cita que o tal país que vai decidir que povo está ou não maduro ou que tem ou não direito à liberdade é os Estados Unidos. Ele não precisa fazer isso. E é neste diálogo que a professora confronta o tenente, americano e mestiço (meio negro, meio branco – e há também a discussão sobre a condição do negro nos EUA da época), com esta superioridade americana diante de todos os outros. Os outros povos nunca estão maduros para a liberdade e porque eles detêm poder e armamentos são eles que definem as regras do jogo – e, claro, de lambuja, defendem os civis oprimidos e satanizados por ditadores cruéis.
A resposta da professora resume algo que eu sempre pensei antes de conhecer e refletir mais sobre as coisas: “O que eles ainda querem é viver a sua vida sob governo próprio e com liberdade.”. Eu já narrei aqui como vi a guerra do Iraque e Bagdá sendo bombardeada. Me dói. Porque não há presidente nem congressista nem povo americano que consiga compreender o que o povo “do lado de lá” pensa e como faz as coisas. Não estou, com isso, dizendo que apoio ditaduras – aliás, quero frisar que nem a cubana. E volto à professora: “- Saiba que detesto qualquer totalitarismo, seja qual for seu disfarce ou pseudônimo. Mas o que me alarma, tenente, é que, à força de combater os comunistas, vocês acabaram por imitar-lhes a linguagem, o método de ação e até a moralidade…”. Na época era o Comunismo que o mundo via ser o monstro construído pelos americanos. A professora diz ao tenente aquilo que também se aplica à ditadura das esquerdas (e, Brasil contemporâneo como bom exemplo, não só às ditaduras): prega-se e luta-se por algo que transfigura-se quando da tomada do poder. No guerra, os americanos vão para perpetuar as mesmas atrocidades que combatem. Terre et Cendres é sobre isso também.
Entre formas de governo e regimes econômicos, acho-os todos velhos. Sou contra totalitarismos. Mas não defendo nem acredito na democracia. Já fui defensora feroz dela. Hoje acho-a velha, ultrapassada, decadente, insuficiente para o nosso mundo. Antes mesmo de ler Paul Hirst, A Democracia Representativa e Seus Limites, talvez influenciada pelas leituras da Filosofia Clássica do começo do curso de Filosofia, vi que eu defendia algo que não fazia mais sentido porque nem era como na sua origem. Lamentei por alguns anos que dentre tantos intelectuais não tenhamos nenhum que tenha criado algo novo, uma forma de governo que contemple necessariamente (o mundo ocidental atual assim o exige) um modelo econômico que seja compatível e que contemple o mundo de hoje. Democracia não nos serve mais. Totalitarismos, ainda mais na América dos “ridículos tiranos”, são impensáveis. Monarquias são motivo de chacota. Mas, eu me pergunto, como então devemos organizar política e economicamente o nosso mundo? Não vejo respostas, e, assim, considero, sim, um crime querer atacar um país para levar as bonanças de uma sociedade falida como a nossa. Se não há uma proposta nova, os meios continuam velhos também. E virão as bombas.
Sei que parece utópico. E provavelmente a característica menos compreendida do utopismo seja a de acreditar que ele não é impossível. Eu quero crer que há ou haverão mentes capazes de dar uma resposta nova para os modelos políticos e econômicos ultrapassados. Lembro bem das aulas de História quando um professor, ao falar de reis, Estados, poderes, sempre os colocava assim: surgimento, ascensão, declínio e queda. Não seriam as histórias todas elas assim? Por que a democracia ou o capitalismo deveriam ser eternos? Meu ser intelectual quer crer que teremos alguma saída.
Ironiza a professora: “Mata-se em nome de Deus, em nome da Pátria e em nome da Democracia, essa deusa de mil faces cuja fisionomia verdadeira ninguém nunca viu.”. E assim Erico expandiu sua crítica, pois matar em nome de Deus, das pátrias ou de uma idéia como é a democracia, é simplesmente matar e nada mais. Me pareceu muito sutil esta frase porque a questão com os povos árabes ainda não tinha as proporções que tem hoje.
Eu seria utópica se esperasse que o mundo ocidental respeitasse o mundo oriental. Não há respeito e assim desconsideram-se os valores, as tradições, os milhares de anos e toda a complexidade do espaço e das pessoas que lá vivem. Não é preciso entender – até porque nem conseguiríamos – apenas respeitar.
Por isso, continuarei sem ler os deuses das análises políticas deste lado do mundo – e, talvez, também do outro. Li uma reportagem sobre uma moça egípcia que fez um documentário sobre as mulheres durante as últimas revoltas no país dela na qual ela dizia que foi motivada justamente porque o que diziam os jornais do ocidente (ela estava na Inglaterra na época) e também de lá não conseguiam contemplar a complexidade da situação delas. Surgem clichês, péssimas interpretações, análises ideológicas. Pretendo ignorar a esquerda ocidental anti-americanista. Estes, por sinal, são os que se atêm somente às ações dos EUA, seus interesses econômicos, e nunca voltam seus olhos para as condições do povo que tornou-se alvo dos ataques americanos. Eles são contra qualquer coisa que os americanos fazem – menos, talvez, à coca-cola.
Tenho o sentimento claro de que não posso fazer nada. Mas acho que a forma que eu lido com ele me foi passada pelo sangue sírio-libanês. Com tanta evidência do Oriente Médio, as pessoas poderiam, pelo menos, procurar saber mais do que e de quem se trata. Pelo menos. Assim eu ouviria menos a já tão chata “é muçulmana?”. Não, não sou. Tenho um Alcorão, estudei o Islamismo como estudei outras religiões porque amo isso (e porque tive um professor sensacional de Filosofia da Religião). Minha mãe tem medo de que eu me converta, vejam só. Me apaixonei pelo Islamismo porque me aproximou de certas coisas e porque conhecimento é assim: apaixona.
Já me alonguei demais, mas vou citar brevemente o único momento no qual comentei com outras pessoas a situação de eminente guerra na Síria. Foram três declarações: 1. ah, mas é que ele usou armas químicas lá, eles provaram; seguida de 2. guerra é guerra, não importa, e eu sou contra; e, por fim, 3. não interessa nada disso, eles (os EUA) sempre arranjam motivo pra se meter em tudo. São opiniões facilmente encontradas por aí. Já comentei sobre a primeira e a segunda (sim, falem do petróleo, do arsenal bélico que os EUA precisam desovar, etc). Faltou comentar a segunda, praticamente não ouvida por aí, e da qual eu compartilho: guerra é guerra e eu sou contra. Não adianta, sou contra violência, sou uma pacifista. Como disse antes, também não considero justificável o uso de armas químicas. Quem sabe, tal como com a democracia e com o capitalismo, não precisamos aqui de uma nova resposta? Como responder a um ditador que usa armas químicas (caso elas tenham sido usadas)?
Precisamos, enfim, de muitas novas respostas e idéias realizáveis. As que estão aí já não nos servem mais – e digo isso sobre o Ocidente, nas quais devem estar incluídas como tratar da relação com o Oriente Médio, posto que ela só tem sido uma sucessão de erros (uma sugestão: o conhecimento é um bom começo). Onde estão nossos intelectuais e políticos?
Afinal, como dizem, 2013 e ainda querem sair bombardeando os outros?